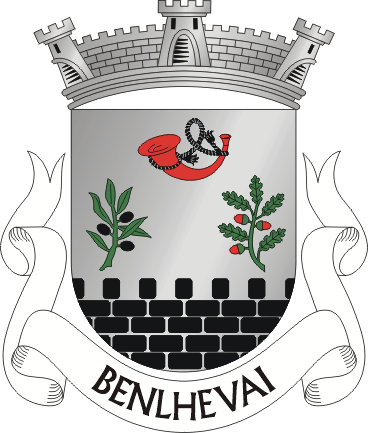Benlhevai
...
Capítulo X
A última sementeira
(Continuação)
Fico sempre mais leve depois de cantar. Vão-se embora as angústias, fica tudo menos confuso. O sol começa a quebrar o frio que cobria a terra, os bois também o devem sentir, embora não demonstrem qualquer mudança de comportamento, continuam no mesmo passo lento mas vigoroso, não lhes mete medo o dia inteiro que têm pela frente, sempre a puxar a charrua, sem fazer cálculos ao que já está feito e ao que falta fazer. É apenas a fome que lhes diz quando se aproxima o meio-dia, é tempo de comermos e descansar o lombo.
A tarde continua como a manhã, começamos a lavrar, ao chegar ao cabo da terra viram-se os bois e a abieca da charrua para a terra ser tombada sempre na mesma direcção e lá vai mais um rego. Lentamente a terra vai ficando lavrada, pronta a receber os grãos que hão-de crescer, dar espiga onde se alojam mais grãos. É esta multiplicação que nos dá de comer, é este trabalho que nos une à terra e desta união entre o homem, os animais e a natureza, sai o pão que nos alimenta. Estes dias também dão para pensar nestes milagres, para olhar para o céu e sentirmo-nos infinitamente pequenos, perdidos neste universo que não tem princípio nem fim, e para olhar para a terra e sentirmo-nos infinitamente grandes, donos da vida e do destino. Encho o peito de ar, sinto-me importante nesta comunhão com a terra, sei que faço parte desta harmonia construída pela natureza. Termino a lavoura, levo os bois para junto dum castanheiro e ponho-lhe o resto do molho de feno. Pego numa saca, prendo o baraço a uma extremidade da base, é nesta saca que se vai deitando o cereal, meia dúzia de litros de cada vez, põe-se ao ombro com a parte aberta virada para a frente, onde a mão do outro lado vai entrar, encher-se de grãos e espalhá-los pela terra. Despeja aqueles, vai-se novamente abastecer, é assim que toda a terra lavrada vai ficar cheia de grãos de pão. Feito este serviço, ponho a grade aos bois, e toca a agradar a terra, vai ficar toda lisinha, uma camada por cima dos grãos, que ficam ali a germinar até começarem a encher a terra de cereal. Todos estes campos se vão encher de verde, que pena eu já não estar cá. A lavoura do Zé Criado trouxe-o para mais perto, já ouço a sua voz forte, canta uma das suas modas preferidas, o Conde Aninho:
Lá se vai o conde Aninho,
Seu cavalo vai banhar;
Enquanto o cavalo bebe
Ouve-se um lindo cantar.- Quem canta quem tão bem canta?
Quem tem tão lindo cantar?
Ou são os anjos no céu,
Ou as sereias no mar.- Nem são os anjos no céu,
Nem as sereias no mar,
Quem canta é o conde Aninho
Que consigo quer casar.O Rei quando aquilo viu,
Mandou-os logo matar.
Um formou-se numa pomba,
Outro num pombo trocal.Um voou, o outro voou,
Ao palácio foram pousar.
O Rei quando aquilo viu,
Caçadores mandou chamar.- Atirai àquelas pombas,
Mas atirai a matar!
Um atirou, outro atirou,
Não as puderam matar.- A nossas armas, senhor,
Não matam sangue real. -
O Rei quando aquilo viu,
Um decreto mandou deitar:Pais e mães que tendes filhas,
Não as proibais de casar.
Nem na vida nem na morte,
As podereis apartar.
Aceno-lhe quando acabo o meu serviço. É bom rapaz, o Zé Criado. Ficou assim chamado porque é criado de servir numa das casas ricas, e como há muitos Zés, é necessário arranjar uma alcunha a cada um para os diferenciar. Trabalha como um galego, se quer beber vinho bom temos que lho dar, que o que lhe mandam é vinagre refinado, a chicha magra não entra na sua saquita da merenda, mas ele não se importa, tão habituado que está à gorda. Quando vem rançosa é que lhe torce a cara, mas vai na mesma, não se pode dar ao luxo de a deitar fora.
- Queres um copo? – Claro que quer, é um bom pretexto para conversarmos um bocadinho e darmos um descanso aos bois antes da viagem de regresso a casa. Eu vou para a minha, ele vai para a dos patrões, que nunca soube o que é ir para uma casa que lhe pertencesse. O início da viagem de regresso coincide com a despedida do sol, quando chegar a casa é de noite. Lá vamos, eu, os bois e o Farrusco, que parece que também sabem que é a última viagem que fazemos juntos. O andar dos bois parece mais lento, o silêncio do Farrusco parece mais triste. Eu também não dou uma palavra, só no povo é que me sai um “boa noite” pouco expressivo a quem que se cruza comigo. Chego a casa, ponho o carro no quinteiro e tiro finalmente o jugo aos bois. Andavam junguidos desde manhã, até na hora do almoço comeram assim. Vejo que ficam aliviados e levo-os assim já soltos ao tanque a beber. Andaram todo o dia sem provar pinga de água, dizem que não se pode levar água por lá para lhes dar de beber, senão habituam-se e estão sempre a querê-la. Agora, no fim do dia, já soltos, sabendo que vão ter uma noite inteirinha de descanso, ao som do meu assobio, com aquela melodia própria do assobio para a cria beber, põem o focinho na água e ali se vingam da sede que raparam todo o dia. Admira-me como conseguem estar tanto tempo a beber, sem respirar, parece que têm como objectivo esvaziar por completo este enorme tanque de água. Deve ser o maior prazer que têm durante o dia, beber esta água até não poderem mais. O Farrusco já nem veio comigo, foi-se deitar ao ninho de palha onde costuma dormir. Sente que já cumpriu a sua missão por este dia, agora descansa um pouco até à ceia. Levo os bois para a loje, deito na manjedoura um molho de painço, um petisco para eles e que bem que o merecem. Amanhã quero dar-lhes outro petisco, uma boa bacia de água com farinha. São mimos que lhes quero dar em jeito de despedida. Também vou ter saudades dos bois, meus companheiros de tantos dias.
-------------------------------------------- CONTINUA ---------------------------------------------